UMA REDE NO AR - Os fios invisíveis da opressão em Avalovara, de Osman Lins
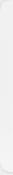 |
Leitura por Temas: O ROMANCE Avalovara é estruturado em oito
temas, indicados pelas letras
R, S, A, O, T, P, E, N, cuja origem é o palíndromo SATOR AREPO TENET OPERA
ROTAS. Cada uma das letras é acompanhada de um título. A disposição dos oito
títulos obedece à ordem da inscrição das letras no quadrado, conforme a incidência
da espiral que lhe é superposta, gerando uma estrutura não seqüencial.
No agrupamento por temas, desconstruímos o entrelaçamento dos temas e os dispomos
em ordem seqüencial, tema por tema, formando oito unidades, cada uma com seu
desenvolvimento contínuo. Isso possibilita um tipo de leitura seletiva, já previsto
pelo próprio autor.
|
 |

 Imprimir tudo Imprimir tudo  Voltar Voltar
Você está em Leitura por temas » Tema O - História de Ö, nascida e nascida [O24]
Quatro e cinqüenta e seis. Sorvo a boca de Abel, falo na sua boca, dentro da sua boca, digo que o amo, com a língua enlaçada em minha língua ele diz que me ama, rola entre nossos dentes a palavra amor. Feita de nuvens grossas, envolve-nos, veloz e prematura, a noite de novembro. Desdobra-se, ecoante, um trovão surdo e móvel: circular. Cerro os olhos. Outra noite, interior e porosa, cerca-me: estou no campo, em algum ponto da Terra, uma planície. Ouço as árvores, suspensas nas trevas, suas grandes copas gotejantes, ouço-as como se fossem repuxos, todo meu corpo escuta-as. Estão cheias de pomos. Há um bater de asas sobre nós e este bater de asas cria nas trevas o espaço celeste — como um chamado no silêncio cria uma presença. O céu sobre mim, com o peso dos seus astros. Meu corpo vê os astros. O céu é negro, os luzeiros são negros, e as aves ligeiras, e as árvores frutíferas, e eu, e a planície na qual estou deitada. O Avalovara renasce no betume, livre da mudez e da imobilidade a que está condenado desde a hora em que Olavo Hayano me estupra com sua glande fria; empluma-se o esqueleto de fóssil incrustado na minha carne (como, na memória, um nome), desata-se, leve, com seus ossos de ar, fogo de artifício rompendo as trevas compactas. Abro os olhos: Avalovara, o pássaro do meu contentamento.
Março chuvoso e quente. Deitada no sofa, entre almofadas, ante as cortinas abertas do apartamento, ouço os veículos que passam na Consolação e acaricio a cicatriz. Quando não estou reclinada no sofá, ando sem ânimo entre as vistosas poltronas e as molduras douradas das pinturas de gênero adquiridas por Olavo Hayano, mudo de lugar os enfeites que detesto — narguilés, bichos de vidro, bonecas japonesas — e aos quais vêm juntar-se todas as semanas outros semelhantes, deito-me de través na cama de casal ou fico ante os espelhos, penteando os cabelos. Experimento, com vagar, meus vestidos leves e floridos. Um dos três quartos do apartamento é fronteiro à área cimentada sobre a qual os moradores dos andares de cima jogam cascas de fruta, embalagens usadas, pedaços de papel e folhas de jornal. Aí, ao cair da tarde, sopra um vento rápido, preso entre as paredes; gira uma hora, duas, com tal velocidade que as folhas de jornal, de castigadas, fazem-se em pedaços. Fico ante a janela envidraçada olhando as espirais de detritos e de pó grosso. Sob essa mesma janela, quando chove, as águas pluviais gorgolejam, sorve-as não sei que conduto dissimulado nas lajes. Esse rumor e o vento bravo do pátio são na casa as duas coisas não compradas e impostas pelo dono, as únicas. Aposso-me de ambas e a elas me prendo.
Pela centésima vez, Hayano rompe o silêncio e me pergunta: “Por quê?” Para ele, tudo tem causa, por força. Pela centésima vez deixo de responder e o silêncio instalase novamente entre nós. Insiste, feita a pausa, sua voz neutra e um pouco ansiosa: “Qual foi o motivo? Tenho o direito de saber”. Esses dias de abril são mesmo luminosos como os vejo? Vejo-os tão claros por causa da energia que renasce em mim? À medida que me voltam as forças, acaricio menos a marca da bala e cresce a insistência com que ele me interroga: “Por que atentou contra a sua vida? Com a minha própria arma! E se houvesse morrido?"
Rejeita, sem explicações, minhas tentativas de trocar um adorno ou de dispor os móveis a meu gosto. Não consente sequer que eu determine a respeito de vestidos: acompanha-me as lojas e escolhe-os por mim. Cerceador, corta-me os passos. Pai e patrono. Adormecida em mim a serpente pelo sopro de Inês, toda minha rebeldia consiste em esconder, para que não sejam examinados, os livros que estou lendo e em despedir as empregadas, cujos uniformes passarn de Antônias a Franciscas, a Ritas, a Edwiges. Também, ante o pátio cimentado e sujo, fruo o que não é de Hayano. Muitas folhas de jornal, aí, rasga o vento em agosto, mas poucos são em setembro os que caem na armadilha do pátio e não chove nesse mês, nem chove em outubro. À noite, ausculto-me e busco os restos do esporão. No copo vermelho, a lamparina estremece. Aspiro o vazio de Hayano como quem aspira um odor de ossos.
Ataviado com todas as cores dos pavões, o Avalovara lembra um manuscrito iluminado. Nele, quase é possível ler. A cauda é longa e curva, com reflexos de cobre. As asas, seis, de um tom verde celeste quando repousadas, ostentam na face interna, quando abertas, círculos de muitas cores, dispostos com simetria sobre fundo escarlate. Vejo-as adejando e nada ouço. Ele voa, o pássaro, da mesa para o chão e do chão para cima do relógio, como se fosse oco, um pássaro de ar. Trançadas no seu peito, faixas e fitas roxas. Da delicada cabeça, parecendo ornada com um diadema de pequenas flores e encimada por uma espécie de língua, descem longas plumas muito claras, semelhantes a flâmulas. Rosa brilhante o resto do corpo. Bico rubro e curto, olhos oblíquos. Quando esvoaça, aflante, o mover das seis asas desprende um odor de paina e não parece que voar lhe pese: todo o sem corpo é asas. Cai a chuva, cai no alto dos prédios, atirada com força pelo vento, cruza os andaimes, emaranha-se nas árvores, lava as paredes voltadas para o sudoeste.
No Período Triádico, os grandes sáurios passeiam sobre o mundo como se fossem eternos. Surgem os pequenos mamíferos, de passo leve e discretos. Os sáurios nem os percebem. Continuam em sossego, movendo os ossos que rangem como as madeiras de um barco, mas já estão condenados; os sutis intrusos, que não podem enfrentá-los, furam seus ovos e sugam o conteúdo. Toda arma é boa para sobreviver ao domínio dos mais fortes e reduzí-los a nada. Eu não caço o amor, nem o júbilo, nem outras exaltações, nos estranhos com quem em camas estranhas me deito: caço Olavo Hayano, atinjo-o - este é meu chumbo, minha boca de fogo - abrindo as pernas a outros. Nem sempre esses outros são torpes nos afagos e as vezes se mostram hábeis entre lençóis, Meu gozo, quando vem é mudo, soturno, eu travo os dentes e clamo: “Inferno!” Corto-me em pedaços, como Inês corta instada por mim seu uniforme sujo. Deixo-me ofender e assim ofendo, rasgo. Mas o esporão volta a crescer, nas coxas, na cara, nos olhos, não sei onde cresce. Recebo ainda, em mim, a glande fria de Hayano e continuo estéril. Ele não faz comentários.
Trovões pesados, baixos - grandes rodas de ferro avançando em salões assoalhados, sem portas e amplos como a Terra. O Avalovara, assustado, desce do relógio, sobrevoa um segundo o dorso de Abel e vem pousar no tapete. Duas ou três penas se desprendem, esvoaçam, retornam ao seu corpo. Descubro: é um ser composto, feito de pássaros miúdos como abelhas. Pássaro e nuvem de pássaros.
Hayano traz um cão para o apartarnento, um pequeno cão policial, de hálito podre e olhos perversos. Sob a pele do peito, oculta no pelame faiscante, há uma pequena cartilagem, ponto duro, semelhante a uma cabeça de alfinete. As mãos de Abel afagando meus cabelos, as violetas que nascem em meus cabelos. Morde me. Morde-me os lábios e a pressão dos seus dentes faz ressoarem cincerros no meu ventre. Hayano: “Por que o tiro?” Volto à cabeça, reticente. O cão fareja-me e segue-me, mostrando os dentes. Afeição? Suspeita? O pássaro ergue vôo e se olha ante um espelho. Cincerros no meu ventre. Eu, feliz? Eis-me feliz. Cresce o cão à medida que se deita, ou se levanta, ou come, ou rosna. Há agora no seu peito, furando o couro, um bico. Um bico adunco, como se uma ave de presa, embutida no cão, tentasse dilacerá-lo, e sair. Nenhum dos meus gestos escapa ao seu olhar canino e como que munido de presas amoladas. Sai do letargo a serpente, enleia-se nas minhas costelas outra vez, estende a língua bífida. Sonda o tempo. Envolvo em carne crua as lâminas de barbear de Hayano e jogo-as para o ar, na direção do cachorro. Ele cresce e engole-as, sôfrego: continua a olhar-me, crescendo e observando-me. Quer mais? Jogo-lhe a última. Ira, a serpente, move cauda e cabeça. Fulgurante explosão, decerto um raio próximo. O pássaro, ante a janela aberta, bate os três pares de asas. Hayano afaga o cadáver peludo. Do bico na barriga do cão escorre um fio de sangue. Ouço a pergunta de Hayano, sua voz surda e remota: “Quem matou?” “Eu”. “E o tiro no seu peito?” Sinto, dois, o sexo de Abel em mim, duplicado, uma forquilha. Eu: duas. Dupla penetração e alegria. Bater de portas, Hayano acende e apaga as lâmpadas, nervosamente. Lança-me gritos e queixas. Entro no elevador, subo para o alto do edifício. Através da neblina, um anúncio luminoso, branco e vermelho, some e reaparece. A chuva cai mais forte e bate na janela junto a qual eu e Abel nos amamos, densa, esgarrada pelo vento, entra pela outra janela e molha o chão. Cabras e leoas voam em nossos corpos, olhando para trás. Do alto do edifício, vejo as luzes da noite. As peças de tração do elevador rangem e estalam. Em algum ponto uma palavra ressoa com insistência, um nome, alguém chamando: cessa afinal o silêncio do meu corpo. Roçam meu peito os pêlos cor de cobre de Abel. Funde-se dentro de mim seu ramo bipartido, fendas semelhantes as fendas das romãs, as mariposas verdes e vermelhas escapam pelas rachaduras, adejam no meu corpo, afloram os ombros de Abel e logo surgem, trançadas, feitas de lã e seda, nos desenhos do tapete, imóveis. Este grande anúncio luminoso, que aparece e morre, com as suas estrelas, seu escudo, suas letras, em que braço do tempo se extravia e cruza comigo, a deriva? Uma explicação insinua-se de modo enigmático, neste acender, neste apagar. Peças esparsas conjugam-se e eu julgo entrever a razão por que meto uma bala no peito em minha noite de núpcias. Desvela-se a estrutura até aqui incompleta e inacessível a parte mais grosseira do meu entendimento. Quatro e cinqüenta e oito? Os objetos claros e as paredes guardam o fulgor dos relâmpagos. Volto ao apartamento — seus bichos de vidro, seus narguilés -, apago todas as luzes. O Avalovara (as asas bem abertas, os pequenos saltos ondulantes) move-se em torno de mim e de Abel. Hayano agora ressona. Distingo, nitidamente, dentre os murmúrios que transbordam de sua luta com os mortos furiosos, a interrogação de sempre: “Por quê?” A lamparina dentro do copo vermelho. Ponho a mão sobre o copo, minha palma arde, a chama apaga-se. Um alarido parece vir da rua, subir pelo edifício e tomar-me: vozes instigadoras falam no meu corpo, vão e vêm. Volto-me para o leito, nada altera a escuridão do quarto, abro quanto posso as oito pálpebras, um rosto inesperado (ou esperado?) surge da sombra, dotado de uma luz mortiça e enevoada, um rosto impalpável e como que plasmado em fósforo e eu vejo a resposta exigida sem trégua ao longo desses anos, sim, vejo como saltei em minha noite de núpcias, enquanto giravam no quarto os refletores, por sobre um elemento insólito e perdido no tempo, um navio (fantasma?), uma ausência fantasma, vejo-me reatar, voltando contra mim o cano do revólver, a seqüência descrita nos dias em que estou narrando a minha vida, vejo o que sei e apesar de tudo preciso ver com os olhos para que seja pleno tal conhecimento, vejo, Hayano é um Iólipo. Levo a mão à cicatriz. Proliferam as mariposas, minha voz cortada se mistura com os dois bichos que em nossos corpos fundidos rugem, latem, bramem, balem e berram, dobro os joelhos, estendo-me no chão, devagar, o rosto contra o chão, a ave nos rodeia, leve, gira na sala, eleva-se um pouco, pela primeira vez eu sigo o cão de Hayano, o gavião bate as asas no seu tronco de cão e este me conduz, língua para fora, por um subterrâneo tortuoso, a descida é árdua, mas descemos, o pássaro de Inácio Gabriel foge pela janela, volta (passa por vigas e tijolos), eu e o cão saímos afinal da galeria, descortino um vale de cor parda, seres deitados povoam-no, raios rasgam a tarde escura e iluminam o pássaro, tento ainda descer mas o último lance da descida é Ingreme, desisto, brilha no ar o Avalovara corno se fosse oco e os raios fulgissem dentro dele, sento-me no alto da falésia, descalça, Os pés pendentes, oscila o pêndulo, Abel e sua aura, vindos de tempos por ele próprio esquecidos, arribam ao centro inflamado do meu ser, sejam atribuídas pausas longas, de ponto, a estas vírgulas, do outro lado do vale dois desconhecidos tangem tartarugas e arrastando-se na terra imitam a sua marcha, ganha altura o Avalovara nos ares agitados, devassa numa espiral que se amplia as estradas dos trovões, sobre baixadas cobertas de água lamacenta, fábricas, casebres derrubados pela chuva, crianças afogadas na enxurrada, quatro e cinqüenta e nove (Morde me!), lagartixas e outros pequenos répteis viscosos saltam do vale e aderem às plantas dos meus pés, vasto é o círculo traçado entre as nuvens pelo Avalovara, e nós somos o centro do seu vôo, esfrego os pés para livrar-me dos répteis, quando uns caem outros pulam e aderem com força a minha pele, tenho-os sempre nos pés durante o tempo em que perdura a visão (Basta me!), alteia-se ainda o Avalovara entre relâmpagos, e de súbito percebo que um pássaro igual — o mesmo? —, quase legível e também feito de pássaros, voa em nossos corpos unidos, leve, entre as ramagens, as mariposas, o crocodilo, o coelho e os animais de gargantas ruidosas. Voa em nós e canta. Estranho: canta em duo, com voz humana e repassada de misericórdia.
© Copyright 2012 - UMA REDE NO AR :: Os Fios Invisíveis da Opressão em Avalovara, de Osman Lins. All rights reserved.
Centro Universitário Ritter dos Reis - Rua Orfanatrófio, 555 - Cep: 90840-440 - Porto Alegre/RS - Brasil | Telefone: +55 (51) 3230.3333
|


 e Abel: ante o Paraíso
e Abel: ante o Paraíso Imprimir tudo
Imprimir tudo Voltar
Voltar